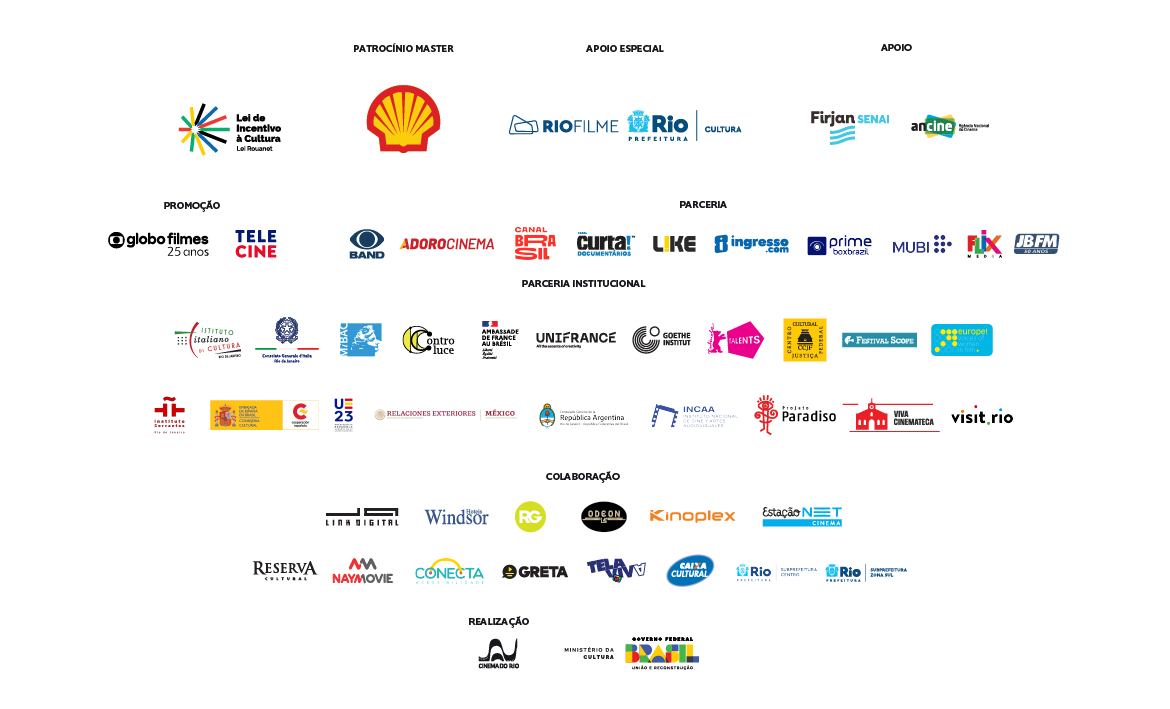Enquanto ainda era tempo

Por Flora Süssekind
Há alguns anos, em depoimento na Fundação Casa de Rui Barbosa, a cineasta Ana Carolina, comentando observação de Ismail Xavier sobre a presença do carnaval em seus filmes e no cinema brasileiro de modo geral, apontaria, imediatamente, para o seu avesso, para o luto, e para o fato de “quase todos os filmes brasileiros terem algum velório, algum morto” que, às vezes, aliás, sequer faz parte da história. O que não excluiria, porém, o surgimento de “um carnavalzinho” em algum momento. “Estamos sempre esbarrando nisso”, observou a cineasta, é “um carnavalzinho aqui, uma morte ali, uma pequena morte lá”. O que, a seu ver, se apontaria, do ponto de vista dramático, para um modo meio sem jeito de se falar sobre o sagrado e o profano, envolveria, também, certo movimento de libertação, certo “jeito malcriado de se libertar”. Não há qualquer carnaval no segundo filme de Bia Lessa e Dany Roland, mas nele surgem com frequência formas meio inesperadas de humor que irrompem em meio ao luto, a diversas cerimônias e relatos ligados à morte e a situações de sofrimento, constrangimento ou emoção pessoal que vão sendo registradas nas várias cidades brasileiras visitadas por eles. Isso à exceção sobretudo de um momento (propositadamente abrupto, mas que se anunciara em depoimento breve, lá pela metade do filme) – aquele das lágrimas involuntárias, contidas, de uma parturiente prestes a dar a filha para adoção, situação que se conclui, brevissimamente, com a batida seca da porta de um carro que conduz a criança para outro destino. Aí, se há a evidente alegria por parte do casal que a adota, é talvez a situação em que, com mais força, se impõe o luto, mais até do que nas sequências que tratam de mortes, velórios e esperas da morte. E, lembrando do comentário de Ana Carolina, o que se experimenta, nesse momento, não deixa de ser também um movimento de liberação, mas de outra ordem, pois o que se ativa com a porta do carro fechando é o desnudamento de um luto que, se presente ao longo de todo o filme, aí se expõe com frieza, em bruto.
Ao contrário das sucessivas sobreposições pendulares de luto e humor que conflituam outras situações cujo registro a rigor poderia ser unívoco - como os velórios, os casamentos, as brigas e separações - é curioso que caiba exatamente ao nascimento assumir esse caráter irremediável. E isso se intensifica exatamente pelo movimento de inversão temporal (à maneira de Brás Cubas) que orienta pelo avesso a montagem dessa narrativa fílmica de vidas anônimas, na qual se vão acumulando lutos até chegar a hora desse parto de que se mostra bem pouco. De modo que o nascimento, quando acontece, já se acha impregnado dessa dobra nada festiva.
A referência a Machado de Assis pode até parecer descabida tendo em vista a vontade de fugir à representação e ao literário que conduziu Bia Lessa ao cinema. “O que me interessa é a possibilidade de lidar com a vida”, foi o seu comentário depois do lançamento de Crede-mi, em 1997, filme acidental produzido a partir do registro de oficinas realizadas com não-atores no Ceará, tendo por base “O Eleito”, de Thomas Mann. E foi mesmo sem qualquer texto ou roteiro prévio, sem encenação pré-desenhada, que, ao lado de Dany Roland, pensou o segundo filme como a construção de um relato de vida sem protagonista único, juntando material de vidas diversas, vividas em localidades diversas - o casamento de alguém, o velório de um outro, uma criança no colégio, algum nascimento. De fato, foi assim que eles compilaram registros verdadeiramente extraordinários de existências comuns, e foi como escuta dessas existências - e em citação intencional ao trabalho de Eduardo Coutinho (que aliás chegou a opinar sobre a montagem) - que Bia Lessa e Dany Roland projetaram o filme, privilegiando, nele, a exposição da matéria documentária, e tornando sensíveis, quase silenciosamente, sem quaisquer comentários, os fundamentos sociais dessas vidas.
E, no entanto, não à toa, esse experimento cinematográfico conjuga à força documental que o conduz, à força dos rostos, das falas e experiências registradas de passagem, certa exposição velada de uma dimensão literária que parece se ativar aí, quase a contragosto (já que é a vida real que se busca), mas que põe em diálogo, de modo extremamente inteligente, três exercícios memorialístico-ficcionais tão diversos quanto Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Orlando, de Virginia Woolf, e Memorias da Emília, de Monteiro Lobato. Sugerindo-se, desse modo, a (machadiana) temporalidade ao avesso da narrativa, assim como a construção de um não-protagonista, composto de frações de existências individuais, diverso e, no entanto, próximo ao Orlando, de Virginia Woolf, cujo personagem-título, que atravessa séculos da história e da cultura literária inglesas, recobre, no entanto, sob um mesmo nome, exercícios de estilo, mudanças de gênero e de período histórico a rigor incompatíveis com recortes identitários fixos. É bom lembrar, nesse sentido, a intimidade de Bia Lessa com esse romance de Virginia Woolf, que encenou por duas vezes (em 1989 e em 2004), utilizando-se de adaptação de Sérgio Sant’Anna.
Quanto a Lobato, dele se toma emprestado o título que, na verdade, funciona, no filme, como bem mais do que um título, cabendo a ele travar, também de cara, possíveis ingenuidades empáticas na sua recepção. Pois a referência às Memórias da Emília – cujas últimas palavras deviam ser “E então morri...” - intensifica obrigatoriamente o desconforto produzido pela distância evidente entre a vida dura que se expõe na tela, a de mulheres que de fato têm que dar os próprios filhos, de velórios e esperas da morte que são de verdade, e a história da boneca de pano cheia de truques e cuja morte é de mentira, mas que, no entanto, há tantas décadas oferece “jeitos malcriados” de libertação imaginária para crianças de classe média com acesso ao universo lobatiano. Como foram, em geral, os adultos que compõem as platéias de cinema no Brasil. E que bem sabem que o que veem em Então morri é um mundo outro, é outra a classe, são esses fragmentos de vidas populares que dão ao filme a sua força.
Cabe examinar, então, a chegada a esse título, antes de sublinhar as estratégias empregadas pelos dois diretores para trabalhar simultaneamente com o adensamento da matéria documental e com a produção de consciência de distância e com uma volubilização da imagem e do tom - entre o lutuoso e suas intermitências – que o caracteriza. Trata-se de examinar esse “Então morri” que surge tão forte na tela, talvez, sobretudo, pela falta de referência pronominal inequívoca, ligado, gramaticalmente, a um “eu” singular e, no entanto, despersonalizado (como quase toda gente no filme), e anunciando (no passado) a própria morte (de quem?). Um título a que se chegou depois de trocas sucessivas de nome ao longo de quase duas décadas. Alterações que, no entanto, permitem retraçar, via denominação, a dinâmica que parece ter orientado a longa maturação desse segundo longa metragem de Bia Lessa e Dany Roland.
O nome inicial, de que talvez pouca gente ainda se lembre hoje, era "Brasil 97", projeto iniciado logo depois do lançamento de Crede-mi, primeiro trabalho cinematográfico dos dois, realizado originalmente em vídeo, a baixo custo e em tempo bastante curto. Coisa que, ao contrário do que se imaginara, não se repetiria com o novo longa, projeto no qual a urgência que nortearia a filmagem se veria contraposta a um longuíssimo processo de montagem e finalização. Alguns anos mais tarde, como 1997 já ia bem longe, o título perderia a precisão cronológica desejada inicialmente e virou apenas "Brasil". Tempos depois, já durante o trabalho de edição, haveria nova mudança. Desta vez não apenas na denominação, mas na percepção mesma daquilo em que ia se tornando o filme.
Claro, era ainda de uma série de viagens pelo país que se tratava. E da construção da narrativa de vida de um não-personagem a partir de momentos diversos colhidos meio em bruto da vida de diversas pessoas. Isso, “enquanto ainda era tempo”, à maneira do que dizia Chantal Akerman ao filmar a Europa do Leste no começo dos anos 1990. Havia algo assim também para Bia e Dany, nessa viagem preocupada menos com possíveis demarcações nacional-identitárias (que o título inicial podia sugerir) e mais com essa escuta - quase ao acaso – da prosa de um mundo outro, com o registro impositivo das histórias, dos sons e falares não-burgueses percebidos ao longo dos percursos por cidades que ofereciam hospedagem e condições materiais minimamente razoáveis para a realização das filmagens. E, como ocorrera em Crede-mi, impôs-se, mais uma vez, que a montagem se produzisse numa zona de interferência intencional entre modo documental e dimensão narrativa.
Mas, se, no primeiro filme, a ficção de Thomas Mann serviria como ponto de partida para a matéria documental que foi se impondo a ponto de converter em cinema o que era originalmente um projeto teatral, o segundo filme abandona a mediação ficcional prévia, mas, sem ser ficção, não se manteria também, durante a montagem, exclusivamente no modo documental. E, ao longo do processo de construção do filme, se chegou a pensar, a certa altura, em algum título (Maria, salvo engano) que sugerisse uma designação feminina capaz talvez de abarcar toda a série de mulheres de idades e regiões bem diversas e cujos rostos inesquecíveis, e modos singulares de contar e viver a própria história foram montando a narrativa de uma vida propositadamente desigual, sem nomes pessoais e intransferíveis (mesmo que alguns irrompam aqui e ali). Mas a terceira hipótese – unificadora - de denominação seria necessariamente abandonada também. Pois, se é de muita gente, de muitas vozes e rostos que trata o filme, não caberia o nome único comum. Cabem apenas ressonâncias. Daí velórios, casamentos, enterros, infância fugirem intencionalmente a laços de família, a ordenações e cronologias.
Dezenove anos depois de iniciado, é como "Então morri" que se apresenta o filme, título narrativo, mas abrupto, que abre e fecha, belamente, a sua exibição, recortando, paralelisticamente, nascimento e morte. E que, em apenas dois quadros, cada um deles com apenas uma das palavras do título, monta uma síntese verbo-visual, um poema-minuto cinemático que funciona, ele mesmo, como uma espécie de micro-relato de vida – de reiteração de que o que nasce, morre. Quase, na verdade, em sua intensa instantaneidade gráfica, como uma contra-narrativa –– redução direto ao ponto do que ali se assiste como duração.
A voz que se inscreve na tela, condensando o filme nessa denominação que funciona como enxugamento ao mínimo do narrativo, se oferece, no entanto, não apenas como síntese, mas, igualmente, como hiato, apontando, de um lado, para os pedaços diversos de outros presentes, para a primeira pessoa que, como já se viu, aí é legião, e, de outro lado, para quem filma, para aqueles que movem a câmera, e que, nesse caso, escolheram não se dar diretamente a ver, a não ser como lugar de escuta. O que, se reforça, de certo modo, a presença da matéria documental, do acontecimento, não se confunde, por outro lado, com qualquer ilusão objetiva. Aliás, a simples construção de uma história de vida com pedaços de vidas diversas já meio que impossibilita isso. A percepção da montagem narrativa serve de trava. Mas não só ela.
Lembre-se, nesse sentido, a certa altura do filme, de quando uma senhora que faz algumas compras, se queixa do marido, e bebe cachaça rigorosamente em todas as vendinhas que frequenta, dirige-se, de repente, à câmera e pede que não a filmem assim, bebendo, pois vão acabar tomando-a por bêbada. Imediatamente se percebe um movimento da câmera e a senhora sai do quadro. Até que se ouve de novo a voz dela, já em tom jocoso, dizendo que tanto fazia, que ninguém a conhecia mesmo, que podiam filmá-la. Aí se juntam, outra vez, voz e figura e ela segue falando. A presença dessa sequência não é, evidentemente, gratuita. Não apenas pelo testemunho registrado, mas pelo que aí se expõe do processo de filmagem, da experiência de tensão entre quem filma e quem é filmado. E se, nesse caso, os diretores afastam a câmera assim que são solicitados a isso, não acontecerá o mesmo com a garotinha que, numa das últimas sequências do filme, corre e foge da câmera que, no entanto, a persegue incessantemente. Momentos como estes produzem distância e figuram, por via indireta, o gesto documental como experiência de encontro e resistência.
A consciência da zona conflituosa de fronteira na qual se constrói Então morri não se intensifica apenas nessas figurações mais explícitas – e por vezes auto-irônicas - do gesto documental, mas no processo de diferenciação interna das sequências, de volubilização do tom com que operam aí Bia Lessa e Dany Roland. Pois há tempos e movimentos diversos na captação das muitas vidas comuns que habitam o filme. Há, claro, a atenção ao tempo do outro, daquele que fala, que impõe um ritmo, uma duração, até uma luz particular a cada sequência. Basta comparar os dois velórios – o ritmo intensíssimo, vivo, da conversa e da movimentação das mulheres que acompanham e preparam o caixão da senhora morta da primeira sequência e a quase prostração da senhora surda que reclama ao lado de outro caixão, o do marido que acabara de morrer, e que anuncia a todos que ele virá buscá-la. Basta observar, também, dentre as conversas sobre a morte, a diferença entre, de um lado, o relato juvenil da menina que descreve, de modo muito dramático, mas curiosamente sem densidade, a morte da avó, e, de outro, numa das mais belas sequências do filme, a velhinha centenária que, no escuro, canta, come e reclama do arroz feito pela filha, fala da vida e da espera da morte e do anjo que virá buscá-la e levá-la para um lugar "lá no céu atrás dos muros".
A sequência toda com essa velhinha apresenta, aliás, mais até do que na do primeiro velório, uma imagem escura, muito escura, e não só porque o lugar é de fato escuro, mas porque há aí uma espécie de indeterminação de limites entre as figuras, e entre os móveis e as coisas à sua volta, que parecem se furtar intencionalmente ao olhar, forçando o espectador do filme a intensificar a escuta, e ouvir de fato aquela voz. Nesse caso, o tensionamento é interno à sequencia – e conflitua as dimensões sonora e visual da imagem fílmica. Nos contrastes entre as duas conversas sobre a morte, entre os dois velórios, isto é, quando a diferenciação se opera entre os segmentos narrativos, o que se parece sublinhar é que, se há uma história de vida, isso não significa padronização, estilização ou articulação forçada. Mas, sim, que a matéria documental é vária, e que pode ser decupada, enquadrada de várias maneiras. A operação de registro necessariamente impondo descontinuidade e delimitação ao que se recorta do contínuo aparente do mundo, ao que se extrai de experiências únicas de vida. E não pretendendo se confundir com elas. Com frequência, ao contrário, operando mudanças súbitas de tom, e fazendo com que luto e humor se confrontem, ou deixando que a câmera se mova intensamente, e acentuem-se, assim, diferenças rítmicas e efeitos de distância entre a situação e o seu registro, o espectador e o que vê. O que sugere também um “movimento (duplo) de libertação”, e a constituição, em Então morri, de um campo gravitacional entre literalidade e distância, matéria documentária e movimento narrativo, que funciona, simultaneamente, como forma de perturbação e consciência material intensificada de ambos os registros.
Voltar
 English
English