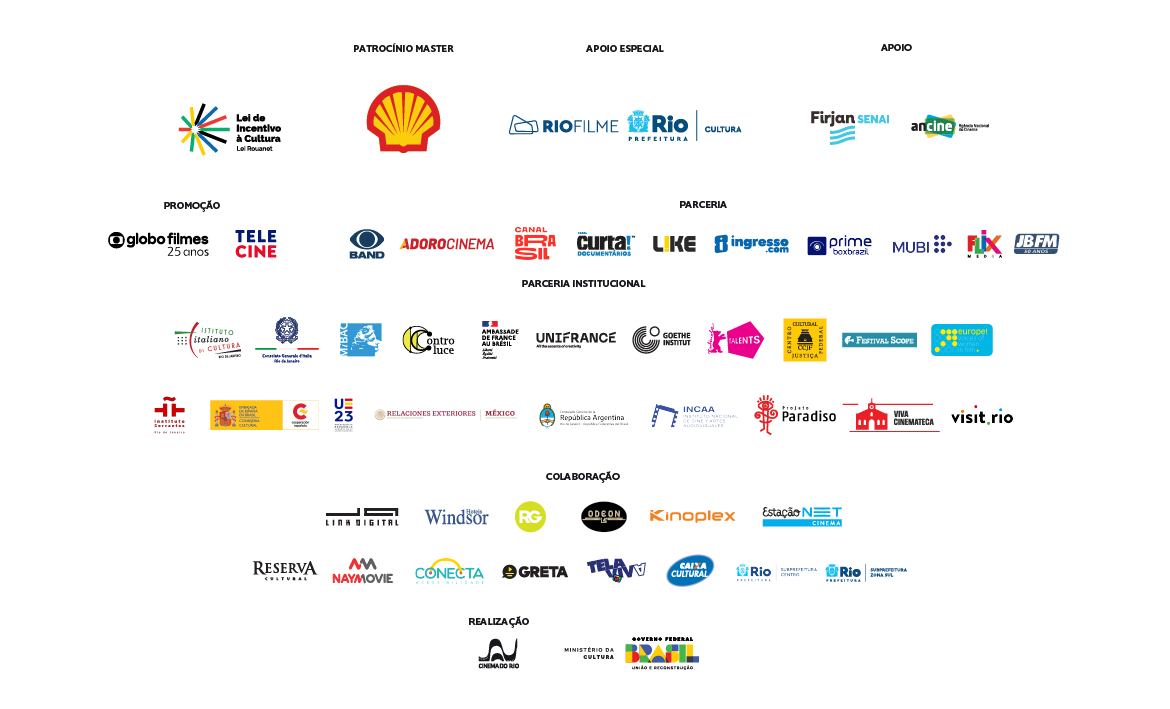O cinema brasileiro e o caminho do meio
Por Renato Guimarães (Talent Press Rio)
O cinema sempre se viu no cruzamento entre a arte e a indústria. Um filme pode ser tanto um objeto artístico quanto um produto comercializável, e, como todo produto, precisa de um público consumidor.
Historicamente, por uma série de razões, as relações entre o público e os filmes brasileiros sempre foram complexas. Nos últimos anos, porém, não é difícil perceber uma polarização acentuada. De um lado, um corpo de filmes populares, “de massa”, que são lançados em grande escala e, esteticamente, quase sempre representam um prolongamento do material produzido para as televisões. De outro, os “filmes de arte”, lançados em circuito limitado, quase sempre concentrado nas principais capitais e, em geral, restritos a um pequeno grupo de espectadores.
Apesar do aumento da presença do filme brasileiro nas telas – o número de longas nacionais lançados comercialmente entre 2000 e 2015 cresceu aproximadamente 400% –, pouca mudança se sente na fatia de mercado ocupada pelo filme nacional. A chamada “participação de mercado” (market share) do filme brasileiro tem oscilado entre 10% e 12% (com picos excepcionais, próximos de 20%, em 2009 e 2013).
Os números de 2015 nos apresentam um bom retrato dessa grande polarização. Num ano marcado pela forte competição com o produto estrangeiro – que teve como carro-chefe Os Vingadores – A Era de Ultron, com mais de 10 milhões de ingressos vendidos, apenas seis filmes nacionais conseguiram ultrapassar a marca de um milhão de ingressos no país. A comédia Loucas para casar foi nosso maior sucesso, com “apenas” três milhões de espectadores.
Dos 129 longas nacionais lançados comercialmente em 2015, só outros doze romperam a barreira dos 100 mil espectadores (podendo ser considerados aquilo que o mercado chama de “filme médio”). Em outras palavras: 86% dos filmes brasileiros não chegaram a 100 mil ingressos. O que nos faz pensar em diversas questões – a principal delas: qual seria a origem desse fosso tão profundo?
Desses 18 filmes brasileiros vistos por mais de 100 mil espectadores no ano passado, apenas três podem se colocar em uma categoria de cinema que busca um alcance intermediário às duas categorias mencionadas anteriormente (o filme ‘popular’ e o filme ‘de arte’): Que horas ela volta?, de Anna Muylaert, Entre abelhas, de Ian SBF, e, talvez, O sal da Terra, de Wim Wenders e Juliano Salgado, que, mesmo sendo um documentário, guarda caraterísticas que o fizeram extrapolar os números habituais do gênero. Por mais que a situação pareça muito problemática, há um espaço, ainda não suficientemente explorado, para esses filmes “intermediários”, e existem, efetivamente, exemplares que podem preencher essa lacuna.
Alguns dos filmes de ficção selecionados para a mostra competitiva da Première Brasil do Festival do Rio são exemplares dessa busca. Aliás, o festival carioca vem servindo de vitrine para esse tipo de filme há quase 20 anos. Dos oito competidores de 2016, é possível perceber pelo menos quatro em que seus realizadores procuram, na escolha dos temas e abordagem narrativas, uma comunicação um pouco mais ampla, reunindo qualidades comuns que podem ser consideradas importantes para esse “posicionamento” de mercado: a escalação de atores conhecidos, pelo menos um aspecto instigante de linguagem, forma ou conteúdo, e uma narrativa que pode ser apreciada pelo cinéfilo e o espectador “comum”.
Sob pressão, de Andrucha Waddington, por exemplo, será provavelmente aquele que mais agradará às plateias brasileiras dentre os concorrentes. O diretor Andrucha Waddington acerta ao escolher utilizar a câmera na mão em bons planos sequência que servem muito bem à sua história direta, objetiva e acessível sobre o cotidiano de um “hospital de guerra”, inserindo o espectador na trama de maneira fluida, sem pausas, sem cortes. De estética hollywoodiana, o filme tem um visível “valor de produção” e consegue retratar, por meio de recursos tão diversos quanto cenografia, figurinos e maquiagem, um mundo hospitalar realista e frenético.
Redemoinho, por outro lado, é um thriller completamente diferente. Enquanto Sob pressão é um filme “central”, situado no coração da cidade do Rio de Janeiro, Redemoinho é periférico. No interior de Minas Gerais, acompanhamos o drama de dois amigos (vividos por Irandhir Santos e Júlio Andrade – este último, aliás, também é protagonista de Sob pressão) que se reencontram após anos separados para se afogarem em uma noite de bebidas e mágoas. O filme de José Luiz Villamarim, diretor da TV Globo, é como um suspense que se constrói lentamente, cuja preparação belíssima nos faz sentir o peso da narrativa.
Falando em interior, aliás, Comeback caminha para um lado completamente diferente. Aqui, o drama permanece, mas o suspense é substituído por uma comédia seca, irônica, repleta de humor negro. Nelson Xavier, no papel principal, entrega uma performance cativante e contida como um velho rabugento, impaciente, amargurado e quieto.
A comédia, gênero que responde por boa parte dos sucessos de bilheteria do cinema nacional, também não “escapa” da releitura de Felipe Sholl em Fala comigo, longa que traz um conteúdo ousado e objetivo de uma forma divertida e leve. Quando funciona como comédia de erros, aliás, a história do jovem Diogo (vivido por Tom Karabachian), que sente prazer ao se masturbar ouvindo os lamentos de uma mulher depressiva pelo telefone, é realmente divertida. Apesar de suas diferenças temáticas e formais, esses quatro filmes compartilham um desejo de atrair o público enquanto seguem propondo características autorais.
No entanto, é evidente que não basta discutir essa problemática em aspectos estéticos. O debate deve gravitar em uma órbita mercadológica. Identificar a possibilidade de estes quatro filmes alcançarem a marca de 100 mil espectadores não é suficiente para fazer com que isso se concretize. A lacuna entre os filmes de massa e os filmes “artísticos” precisa ser reduzida e atacada em um debate que inclua as questões da distribuição e da exibição. O próprio pensamento sobre o cinema, em geral tão focado nas questões de linguagem, precisa também se abrir para outros aspectos, ampliando a reflexão para as questões de recepção.
É preciso lançar a hipótese: se mais filmes como os competidores pelo Troféu Redentor forem produzidos, haverá maior demanda por estas obras? Se outros longas similares a Que horas ela volta? forem produzidos, lançados e consumidos é possível que o Brasil cresça também no âmbito cinematográfico internacional.
Por fim, concluímos que o nosso cinema precisa ser pensado em consonância com o nosso mercado e a nossa distribuição. Para cuidar e cultivar o nosso cinema, é preciso aprender também a pensar, cuidar e cultivar o nosso público – e o mercado que o comporta – ao mesmo tempo. Afinal, cada um dos elementos dessa complexa equação depende do outro para existir.
Voltar
 English
English