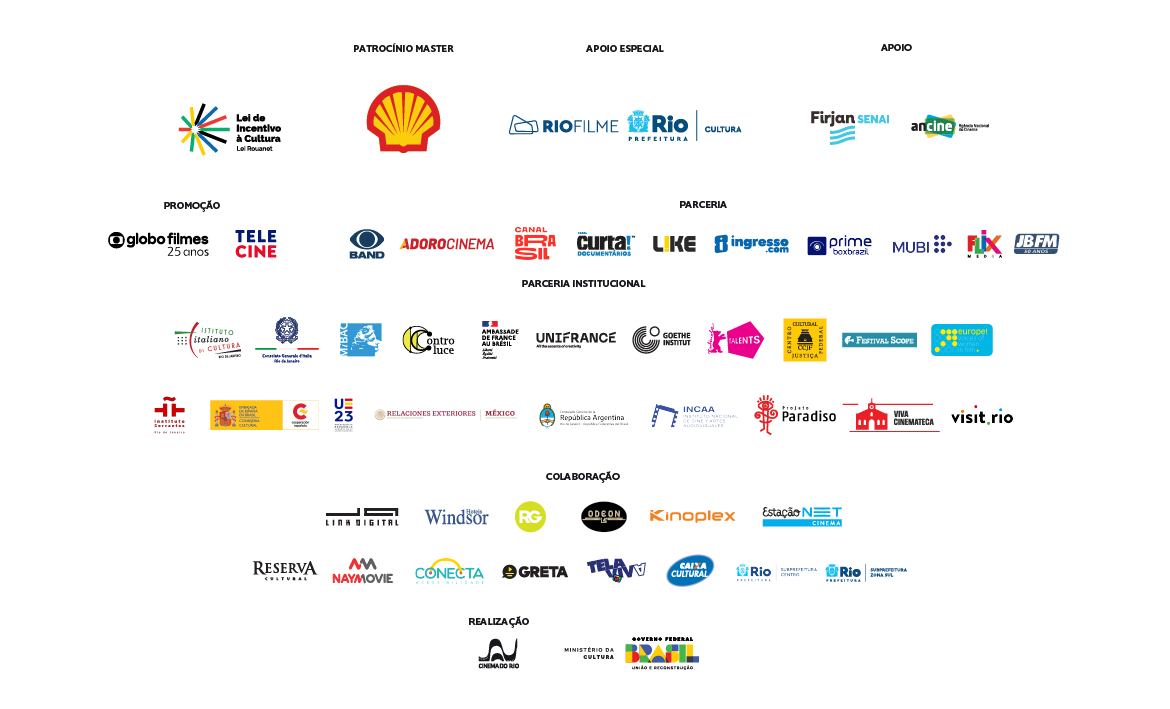Marguerite e a voz da memória
por Susy Freitas
Encarar a produção artística de Marguerite Duras é supor que essa mulher jamais vivenciou algo que não fosse de uma enorme intensidade. Seja na literatura, teatro ou cinema, uma potência absurda emana das situações-limite encaradas no íntimo de seus personagens.
Soma-se a isso outra característica que perpassa a obra de Duras: a presença de uma narração em primeira ou terceira pessoa, chegando ao extremo de confundi-las. Por vezes, o recurso é o único fio condutor explícito da trama, especialmente no caso de seus filmes, tais como A mulher do Ganges (1974), India Song (1975), Le camion (1977) ou Hiroshima, meu amor (1959; dirigido por Alain Resnais e roteirizado por ela).
Levando tais características em consideração, põe-se na mesa o desafio de Emmanuel Finkiel ao adaptar para o cinema um livro de Duras, A dor, resultando no filme Memórias da dor. Para tanto, o francês focou em dois blocos da obra literária: o primeiro, que empresta o título ao livro e ao filme no original francês, e o segundo, intitulado “O Sr. X, aqui chamado Pierre Rabier”.
As narrativas, interconectadas, passam-se no período quase ao fim da Segunda Guerra e são parcialmente autobiográficas. Concentram-se basicamente no período em que a escritora aguardava notícias do marido, Robert Anselme, preso no campo de concentração de Dachau por volta de 1944 graças ao seu envolvimento com a Resistência.
A memória como depósito de sensações
No livro, chama a atenção a descontinuidade de tempo e espaço, com datas pouco demarcadas e até mesmo contraditórias. É o que autores como Deborah Rachel Hunter (em Truth and Memory in Two Works by Marguerite Duras, 2013) apontam ao relacionar a estrutura do livro a colocações de Sigmund Freud e Jacques Lacan acerca de como uma experiência traumática altera as percepções guardadas na memória, de maneira que esta (a memória) é muito mais um depositório de sensações e menos um registro linear de fatos objetivos.
Toda arte não é um pouco isso? Não será esse o motivo de Duras iniciar o livro explicando que não tem lembrança de ter mantido o diário que o originou – opção mantida por Finkiel para o longa-metragem? “Vejo novamente o lugar. A estação de Orsay. Os trajetos. Mas não me vejo escrevendo esse diário”, divaga a Marguerite-personagem, como quem anuncia uma colcha de retalhos que, no entanto, é costurada em estilo muito mais tradicional na tela do que nas páginas.
E quanto à natureza fragmentada do cinema? Em trabalhos teóricos, Hugo Munsterberg e Serguei Eisenstein explicaram, cada um dentro de suas perspectivas, que recortes audiovisuais ordenados de maneira a se apresentarem como um filme pronto são nada além de intervalos lacunares que conseguem, por algum motivo, fazer sentido ao espectador. Uma analogia a como nossas lembranças funcionam dentro da mente?
Nesse sentido, a narração em primeira pessoa é um elemento crucial em A Dor e em Memórias da Dor. É ela que dá conta de expressar a perturbação da Marguerite-personagem (Mélanie Thierry), que ora tem certeza absoluta da morte do marido Robert (Emmanuel Bordieu), ora de sua sobrevivência, passando um longo período de angustiantes dúvidas.
As diferenças começam quando observamos que a obra literária conta com o vigor da narrativa da Duras-autora como um todo. Já o filme de Finkiel opta por uma montagem linear e apenas pontua a aparente confusão que é a sequência dos fatos no livro e a voz emblemática da autora. Assim, a arrumação implementada por Finkiel se revela menos aberta para expressar a aflição da Marguerite-personagem, que encontra espaço justamente quando o roteiro permite à protagonista trazer o texto original na narração.
A tepidez prevalece ainda mais quando a linearidade narrativa é usada para expor as relações de poder e a inócua tensão sexual entre Marguerite e o agente da Gestapo Rabier (Benoît Magimel). Após um encontro entre eles, por exemplo, acompanhamos a caminhada da protagonista até sua casa, ouvindo um extenso voice over, iniciado com colocações que, se isoladas, poderíamos tomar como banais: “Ando na rua. Não há carros. O mecanismo da visão está perturbado. Eu não distingo mais. Mas continuo andando. Passo do pavimento à calçada. Depois volto ao pavimento. Eu ando. Meus pés andam”.
Uma questão moral
Indo além da superfície do texto, a constatação do movimento do corpo surge aí como surpresa. Não é Marguerite, a mulher, que se move; é única e exclusivamente o mecanismo que a envolve, a carne, os músculos, o sistema que compreende seu corpo que insiste em viver. No filme, a imagem torna-se confusa. Foge do padrão privilegiado por Finkiel. O desfoque é a tônica, transformando a pele alva de Thierry e seu figurino de cinzas e azuis uma massa única com o dia nublado e os demais tons frios da cidade. A Marguerite-personagem-narradora entrega-nos uma pergunta nas entrelinhas desse texto aparentemente simples, plano e direto: como é possível viver?
É o que a continuidade da narração em primeira pessoa apresenta: “Acho que sinto um leve arrependimento por ter falhado em morrer viva. Não sei o que fazer com a liberdade. Tenho medo de ser morta. Tenho vergonha de viver. E digo a mim mesma que, se não morrer, te verei de novo”. O dilema da personagem enfim se aprofunda! Não se trata de esperar ou não o marido, ou entregar-se ou não aos braços do inimigo. A questão é moral, mas sob outra ótica: como suportar a dor e conseguir viver plenamente? Ainda é possível fazê-lo na guerra? E após? As imagens dançam entre as luzes, as formas indefinidas no chão e as nuvens-manchas no céu. A única possibilidade de resposta está na sobrevivência.
Assim, o plano torna-se uma confusão, como os sentimentos da personagem. Talvez por isso Marguerite compare o barulho da rua com o som do mar. Talvez por isso o roteiro de Finkiel se entregue a esses momentos, nos quais a Marguerite-personagem-narradora diz: “Eu não distingo mais. Mas continuo andando”. A vida segue, apesar de tudo, e o voice over posteriormente se cala para permitir o retorno do filme a seu formato mais insípido, optando por uma via diferente da que a Marguerite-autora segue no livro. Antes disso, porém, vemos ainda uma imagem fantasmagórica: há duas Marguerites em cena. Será aquela da memória, acompanhando a do fato objetivo? Passado e presente num mesmo espaço? Como distingui-los?
Um crime de todos
Pode-se dizer que o livro de Duras sumariza seu ponto central quando o personagem de Robert frisa a responsabilidade coletiva pela Segunda Guerra. Diz ele: “A única resposta para esse crime [o nazismo e o colaboracionismo francês] é transformá-lo num crime de todos. Partilhá-lo. Assim como a ideia de igualdade, de fraternidade. Para suportá-lo, tolerar a ideia, partilhar o crime”.
No longa de Finkiel, uma sequência mais sutil aborda como suportar o passado e o presente e opta por pouco versar sobre o colaboracionismo. Trata-se do voice over no qual Marguerite explica sua relação com a senhora Katz, que aguarda em vão o retorno da filha, judia e deficiente física. O passatempo de Katz é restaurar e ordenar as roupas da jovem e de Robert, numa tentativa de materializá-los ou, no mínimo, dar substância ao cenário. Assim Duras descreve esse segmento: “A senhora Bordes e eu vivemos o presente. Podemos prever um dia a mais para viver. Pensar em três dias, comprar pão e manteiga para três dias seria ofender a Deus. Estamos coladas a Deus, grudadas a algo que seria Deus”.
Já no filme, Finkiel resume o sentido dessa colocação com palavras aparentemente contraditórias: “A espera a mantém viva. Faz seis meses que a senhora Katz desafia Deus”. E daí o longa retorna novamente para a perda de sua força, a linearidade que não dá conta de abraçar não a literalidade do texto-base, mas os sentimentos que ele evoca. Ainda que através de um recurso tão básico quando a narração em primeira pessoa, é através dela que Memórias da Dor permite que Duras respire por essas brechas, viva e violenta.
Voltar
 English
English